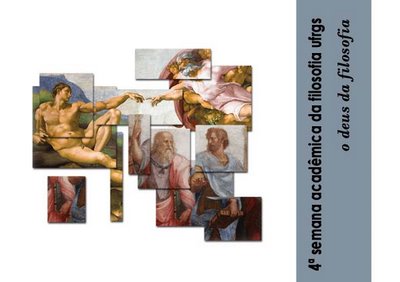Texto do Cesar Schirmer
Segue o texto de Cesar Schirmer.
A "Morte de Deus" e o Debate Acerca da Perda dos Conceitos Morais – Comunicação para o Questões Disputadas
César Schirmer dos Santos
UFRGS/CNPq
20 de novembro de 2006
Como conseguimos beber inteiramente o mar? Quem nos deu a esponja para apagar o horizonte? Que fizemos nós, ao desatar a terra do seu sol?
Friedrich Nietzsche, A Gaia Ciência, §125
É uma satisfação participar da IV Semana Acadêmica da Filosofia UFRGS. Agradeço ao CADAFI e a Melina Duarte pelo convite. Minha apresentação trata do problema da perda dos conceitos morais, no mundo sob influência européia, a partir do Iluminismo. Me concentrarei em apresentar a formulação do problema segundo Nietzsche, Anscombe e MacIntyre. Em seguida apresentarei a solução proposta por Iris Murdoch, e concluirei sugerindo rapidamente que talvez o quadro de um mundo sem Deus, vislumbrado em meados do século 20, tenha se alterado ao final do século 20.
*
Nietzsche é famoso, entre outras coisas, pela frase "Deus está morto". No parágrafo 343 d'A Gaia Ciência, obra de 1882, ele diz:
O maior acontecimento recente – o fato de que "Deus está morto", de que a crença no Deus cristão perdeu o crédito – já começa a lançar suas primeiras sombras sobre a Europa. […] Mas pode-se dizer, no essencial, que o evento mesmo é demasiado grande, distante e à margem da compreensão da maioria, para que se possa imaginar que a notícia dele tenha sequer chegado; e menos ainda que muitos soubessem já o que realmente sucedeu – e tudo quanto irá desmoronar, agora que esta crença foi minada, porque estava sobre ela construído, nela apoiado, nela arraigado: toda a nossa moral européia, por exemplo.
Como entender a afirmação que Deus está morto? Trata-se de um ataque à religião vigente? Longe disso. A afirmação da morte de Deus é, figuradamente, a constatação do estado das coisas na Europa do final do século 19. Na interpretação de Randall Havas, a "morte de Deus" é a síntese do modo como o europeu relaciona-se com o mundo e com os outros a partir do Iluminismo. Ele diz, em um texto publicado em 1992:
A morte de Deus significa que já não podemos dar sentido à idéia que o valor da vida é imposto à mesma de fora. Isso, por sua vez, sugere que nós mesmos devemos, de alguma maneira, ser responsáveis pela mesma. Mas precisamente essa conclusão parece nos deixar sem uma imagem filosoficamente operacional de onde vem tal responsabilidade. Quer dizer, enquanto o mundo permanece um lugar inteligível no despertar da morte de Deus, essa inteligibilidade, agora parece, nem pode ser meramente imposta a nós pelo mundo, nem pode ser encontrada simplesmente escrita na superfície das coisas, de alguma maneira inerente à natureza do mundo. A morte de Deus sugere, então, que bem na hora que pensamos estar finalmente nos tornando mais transparentes a nós mesmos – mais plenamente humanos – estamos de fato confrontados com uma dificuldade intrínseca para nos compreendermos.
Voltando a Nietzsche, ele está dizendo que Deus, o fiador da moralidade européia, está sem crédito na praça. Os europeus já não crêem em Deus. Ele está dizendo também, profeticamente, bem ao seu estilo, que da perda da credibilidade de Deus seguirá a derrocada da moralidade européia, pois a mesma sustenta-se em Deus. Reiterando, e explicitando, o problema não é, na constatação de Nietzsche, a perda de crédito de Deus junto a Nietzsche, mas sim a perda de crédito de Deus junto aos europeus.
Estará Nietzsche certo na sua constatação? Perguntemos a outros filósofos, como a fervorosa católica e eminente filósofa analítica G.E.M. Anscombe. Ela diz, em 1958:
[…] os conceitos de obrigação e dever – isto é, obrigação moral e dever moral – e do que é moralmente certo e errado, e do sentido moral de "deve", devem ser lançados ao mar, se isso for psicologicamente possível; pois eles são sobreviventes, ou derivativos de sobreviventes, de uma concepção anterior de ética que geralmente já não sobrevive, e são apenas nocivos sem ela.
Segundo Anscombe, nós herdados dos gregos, através dos cristãos, o conceito de "dever". Entre os gregos o conceito não tinha sentido moral, mas entre os cristãos sim, por causa da concepção legalóide de ética que os cristãos herdam do judaísmo. Em tal concepção normativa da ética, só é possível que um homem seja mau enquanto homem (não enquanto artesão, soldado, etc.) se houver a crença em um Deus legislador. O que ocorre, na ausência de tal crença, é a ausência de falta, erro ou pecado. Como ela diz, sem a crença em Deus:
É como se a noção de "criminalidade" fosse permanecer quando as leis e as cortes criminais houvessem sido abolidas e esquecidas.
Segundo Anscombe, a partir de Hume a noção de obrigação moral é esvaziada da sua base teológica. Em conseqüência disso, diz ela, temos agora em nosso vocabulário uma noção supostamente moral, a noção de "dever", a qual "mantém sua atmosfera mas não seu significado". Ante tal situação, ela diz que "seria mais razoável abandoná-la".
Aceitando que Nietzsche e Anscombe acertam em seus diagnósticos, em 1882 a Europa ainda estava para reconhecer a perda da sua velha moralidade, devido à perda da fé em Deus, e em 1958 um elemento fundamental dessa moralidade, a noção de obrigação moral, já era visto como perdido pelo mesmo motivo.
Perder a noção de obrigação moral, em uma ética normativa, já é perder bastante. Mas MacIntyre diz que a situação é ainda pior. Ele diz, generalizando o ponto de Anscombe aos mais diversos conceitos morais:
[…] no mundo real que habitamos a linguagem da moralidade está no […] estado de grave desordem […]. O que possuímos […] são os fragmentos de um esquema conceitual, partes às quais atualmente faltam os contextos de onde derivavam seus significados. Temos, na verdade, simulacros da moralidade, continuamos a usar muitas das suas expressões principais. Mas perdemos – em grande parte, se não totalmente – nossa compreensão, tanto teórica quanto prática, da moralidade.
[…] os conceitos que empregamos mudaram de caráter nos últimos trezentos anos; as expressões normativas que usamos mudaram de significado. Na transição da diversidade de contextos dos quais se originaram até nossa cultura contemporânea, "virtude", "justiça", "piedade", "obrigação" e até "dever" tornaram-se diferentes do que eram.
Naturalmente não posso negar, e na verdade minha tese exige, que a linguagem e as aparências da moralidade persistam, embora a substância integral da moralidade tenha se fragmentado muito e, assim, tenha sido, em parte, destruída.
MacIntyre, como Nietzsche e Anscombe, nos retrata em uma situação de desmoronamento, morte ou fragmentação dos antigos fundamentos do nosso quadro moral. Segundo esses filósofos, ao menos na medida em que somos filhos do Iluminismo, nós vivemos em um mundo no qual certa fundamentação da moral foi perdida. Cada um desses filósofos reage de maneira diferente a tal perda. Nietzsche a celebra na continuação do §343 da Gaia Ciência, Anscombe nos convida a jogar ao mar a carga inútil, os conceitos morais de base teológica agora vazios, e MacIntyre se concentra em descrever nossa situação em um mundo no qual nossos conceitos morais em geral são vazios.
É preciso notar, apesar das semelhanças, as diferenças entre as posturas desses filósofos. Nietzsche nos retrata em uma situação na qual a ausência de Deus abre espaço para uma nova e melhor fundamentação da moralidade. Tomando emprestada uma noção propagada por Thomas Kuhn, é como se Nietzsche estivesse vendo uma mudança de paradigma tendo curso. Dadas suas críticas ao paradigma anterior, cristão, e sua proposta de um paradigma mais ligado à vida, um paradigma que não seja niilista, é compreensível que ele festeje a "morte de Deus". Anscombe, por sua vez, não está dizendo que nossa moral como um todo está sendo aniquilada, ou que a moralidade é impossível sem a noção de obrigação moral. A ética aristotélica é testemunho dessa possibilidade. Ela diz, muito especificamente, que certos conceitos morais, como nosso conceito de "dever", carecem de significado na ausência de fé em Deus. Ela tem uma proposta positiva para resolver tal problema, a saber, desenvolver uma nova filosofia da mente, uma nova filosofia da psicologia. MacIntyre, por fim, está fazendo algo muito diferente ao dizer que nosso vocabulário moral em geral é vazio. É provável que seu ponto de vista não possa ser levado ao extremo. Como diz Cora Diamond:
A alegação de MacIntyre que de fato perdemos conceitos morais não pode ser levada tão longe ao ponto de sugerir que não podemos vir a compreender e apreciar o que perdemos. Estou sugerindo, então, que seu livro [Depois da Virtude] nos convida a reconhecer um lugar para os velhos conceitos na vida de agora, como um padrão, como algo que podemos usar na compreensão e avaliação da nossa própria situação.
Voltando à proposta de solução do problema da perda dos conceitos morais de Anscombe, como seria uma filosofia da mente operacional em um mundo – no nosso mundo – no qual os conceitos morais fundados em um Deus legislador não estivessem disponíveis? Iris Murdoch responde essa questão em A Soberania do Bem. A resposta de Murdoch tem duas partes. Primeiro, uma crítica da noção de mente e de homem que ela atribui aos filósofos do século 20, os herdeiros do Iluminismo. Segundo, a proposta de uma filosofia da mente alternativa, a qual admite que temos a capacidade de ver o Bem.
De acordo com Murdoch, é típico da filosofia de meados do século 20, tanto na Europa continental (França e Alemanha) quanto no mundo anglo-saxão, ver o homem como um ser dotado de conhecimento, o qual é oriundo de informações captadas através da percepção, e também de vontade. Nessa representação da mente humana não há espaço para o conhecimento, visão ou intuição do que não pode ser dado pelos sentidos. Não há conhecimento do Bem, por exemplo. Além disso, e aqui vou além de Murdoch, não é claro se os filósofos do século 20 aceitam que a vontade tem um objeto formal. Na filosofia medieval, e também na filosofia do século 17, o Descartes da "Quarta Meditação" é um exemplo, a vontade é vista como uma faculdade mental que move-se pela representação do Bem. O Bem é o objeto formal da vontade em tais filosofias do passado, mas esse não parece ser o caso na filosofia do século 20. Ante tal quadro, assim representado, me parece que devemos concordar com Murdoch quando ela diz que para os filósofos de meados do século 20, tanto existencialistas quanto filósofos da linguagem cotidiana, os quais vêem a moral como uma teoria acerca do comportamento, da ação, a vontade é uma faculdade que move-se a partir de nada. Não há objeto formal da vontade, e não há valores que sejam objeto de conhecimento para o sujeito, pois tudo o que é dado a conhecer é aquilo que é dado à percepção, aos sentidos, e valores não estão aí para ser vistos através da percepção. Talvez os valores estejam apenas "nos olhos de quem vê", sendo, de certa maneira, subjetivos.
Ante tal quadro, o qual ela considera insustentável, Murdoch propõe uma filosofia da mente alternativa. Murdoch propõe que o Bem é objeto de visão intelectual, e de conhecimento. É preciso deixar claro que o Bem, para Murdoch, não é uma espécie de disfarce de Deus. Bem é um conceito, e Deus não costuma ser tratado como um (mero) conceito pelos filósofos que investigam seu ser.
Obviamente, os filósofos de meados do século 20 – chamemos aos membros dos dois grupos, tanto analíticos como continentais, igualmente de "existencialistas", tal como faz Murdoch – protestariam ante tal teoria. Tais filósofos diriam que temos olhos, ouvidos, nariz, pele, língua, isto é, órgãos dos sentido, mas não temos um órgão para captar o Bem. Em vista disso eles diriam que a proposta de Murdoch é mero misticismo. É como se, na carência de Deus, um arremedo de Deus igualmente além do conhecimento, a idéia do Bem, estivesse sendo sugerido.
Em resposta aos existencialistas, Murdoch admite que adota uma espécie de misticismo, isto é, de teoria que admite algum tipo de visão de algum tipo de realidade que não é captada pelos cinco sentidos, e da qual a experiência estética da beleza é testemunha. Ela diz:
De fato a dificuldade é olhar. Se alguém não acredita em um Deus pessoal não há "problema" do mal, mas há a quase insuperável dificuldade de concentrar a atenção no sofrimento e no pecado, nos outros ou em si mesmo, sem falsificar o quadro de alguma maneira enquanto se o torna suportável. […] Há […] algo na tentativa séria de olhar compassivamente para as coisas humanas que automaticamente sugere que "há mais do que isto". O "há mais do que isto", se não é corrompido por algum tipo de finalidade quase-teológica, deve permanecer uma minúscula centelha de insight, alguma coisa com, tal como é, uma posição metafísica mas sem forma metafísica. Mas me parece que a centelha é real, e que a grande arte é evidência da sua realidade.
Embora tal postura seja oposta à quase totalidade das práticas filosóficas contemporâneas, será tal teoria privada de respeitabilidade teórica por ser mística? Aos que pensam assim não é demais lembrar que Platão, nosso pai, estava inclinado a tratar as coisas dessa maneira. Sobre o misticismo, Murdoch rejeita a oposição, estabelecida por Bertrand Russell, entre misticismo e lógica. Para ela, o homem bom tem noção do magnetismo do Bem, e nesse sentido é místico, e mesmo religioso.
Para Murdoch, o problema moral mais básico é o egoísmo. Ela entende por místico o homem que usa a visão (intelectual) para ver as coisas tal como as mesmas são, e que em decorrência disso se afasta do egoísmo. O existencialista, aquele que exalta o indivíduo de maneira anti-social, romântica e solipsista, é o personagem filosófico oposto ao místico. Para Murdoch, o existencialista volta-se apenas para si mesmo, e não vê mistério algum no mundo, o que falsifica o quadro da situação do homem no universo.
As religiões dispõem de técnicas e exercícios espirituais para purgar o egoísmo, purificar a alma. Entre tais técnicas estão os rituais e as orações. Mas, em um mundo sem religião, tal como o mundo de meados do século 20, como evitar o egoísmo? Para Murdoch, é preciso que o indivíduo sem Deus tenha uma atitude cognitiva para com o Bem semelhante à atitude cognitiva do fiel para com Deus durante a oração. Orar, diz Murdoch, é focar amorosamente a atenção em Deus. Deus, segundo Murdoch, era ou é:
[…] um objeto real de atenção único, perfeito, transcendente, não-representável e necessário.
Para purgar o egoísmo e tornar-se uma pessoa melhor, o que é o objetivo da moral, o homem-sem-Deus precisa de um objeto de atenção que tenha todas as características de Deus. Murdoch propõe que o Bem pode ser tal objeto de atenção. O Bem (1) pode ser foco da atenção do sujeito, (2) é um conceito unitário, supremo, (3) é transcendente no sentido de ser exterior ao indivíduo, exigir que a atenção volte-se para fora, para o mundo, (4) é uma perfeição, (5) está acima da dúvida para aquele que o tem em atenção, e (6) é real no sentido se não esgotar-se na sua percepção.
Seria preciso apresentar a posição de Murdoch com mais calma, mas nesta comunicação não posso fazer mais do que dar uma notícia da mesma. Fecho a apresentação da mesma com a resposta de Murdoch a uma possível crítica: Trata-se de uma teoria da moral, e logo da prática, ao alcance apenas de uma elite de místicos, ou de uma teoria ao alcance de todos? Para Murdoch, trata-se de uma teoria ao alcance de todos. Ela diz:
O fundamento para a moral é propriamente certo tipo de misticismo, se por isso se entende uma fé não-dogmática e essencialmente não-formulada na realidade do Bem, ocasionalmente conectada com a experiência. O camponês virtuoso sabe, e creio que continuará sabendo, apesar da remoção ou modificação do aparato teológico, embora ele possa ter dificuldade para dizer o que sabe.
*
Por fim, me parece apropriado nos perguntarmos se o cenário vislumbrado pelos filósofos antes mencionados, se o cenário de desaparição ou diminuição da influência da religião se mantém nos dias de hoje. Tomando como apoio a exposição de Jacques Derrida no livro A Religião, creio que o quadro consistentemente visto pelos filósofos ao longo do século 20, isto é, o quadro de perda da religião, e de Deus, talvez tenha se alterado. Caso tenha havido tal alteração, isto é, caso a religião esteja, ainda que de uma nova maneira, voltando a ocupar um espaço importante na vida das pessoas, no mundo europeu por filiação ou adoção, teremos que repensar os problemas apresentados acima. Acima me concentrei na questão da perda dos conceitos morais a partir da perda da fé em Deus na história recente da Europa. Nesse quadro, a volta da religião significa, automaticamente, a volta do fundamento teológico para certo discurso moral? Eis um problema.
Friedrich Nietzsche, A Gaia Ciência, §125
É uma satisfação participar da IV Semana Acadêmica da Filosofia UFRGS. Agradeço ao CADAFI e a Melina Duarte pelo convite. Minha apresentação trata do problema da perda dos conceitos morais, no mundo sob influência européia, a partir do Iluminismo. Me concentrarei em apresentar a formulação do problema segundo Nietzsche, Anscombe e MacIntyre. Em seguida apresentarei a solução proposta por Iris Murdoch, e concluirei sugerindo rapidamente que talvez o quadro de um mundo sem Deus, vislumbrado em meados do século 20, tenha se alterado ao final do século 20.
*
Nietzsche é famoso, entre outras coisas, pela frase "Deus está morto". No parágrafo 343 d'A Gaia Ciência, obra de 1882, ele diz:
O maior acontecimento recente – o fato de que "Deus está morto", de que a crença no Deus cristão perdeu o crédito – já começa a lançar suas primeiras sombras sobre a Europa. […] Mas pode-se dizer, no essencial, que o evento mesmo é demasiado grande, distante e à margem da compreensão da maioria, para que se possa imaginar que a notícia dele tenha sequer chegado; e menos ainda que muitos soubessem já o que realmente sucedeu – e tudo quanto irá desmoronar, agora que esta crença foi minada, porque estava sobre ela construído, nela apoiado, nela arraigado: toda a nossa moral européia, por exemplo.
Como entender a afirmação que Deus está morto? Trata-se de um ataque à religião vigente? Longe disso. A afirmação da morte de Deus é, figuradamente, a constatação do estado das coisas na Europa do final do século 19. Na interpretação de Randall Havas, a "morte de Deus" é a síntese do modo como o europeu relaciona-se com o mundo e com os outros a partir do Iluminismo. Ele diz, em um texto publicado em 1992:
A morte de Deus significa que já não podemos dar sentido à idéia que o valor da vida é imposto à mesma de fora. Isso, por sua vez, sugere que nós mesmos devemos, de alguma maneira, ser responsáveis pela mesma. Mas precisamente essa conclusão parece nos deixar sem uma imagem filosoficamente operacional de onde vem tal responsabilidade. Quer dizer, enquanto o mundo permanece um lugar inteligível no despertar da morte de Deus, essa inteligibilidade, agora parece, nem pode ser meramente imposta a nós pelo mundo, nem pode ser encontrada simplesmente escrita na superfície das coisas, de alguma maneira inerente à natureza do mundo. A morte de Deus sugere, então, que bem na hora que pensamos estar finalmente nos tornando mais transparentes a nós mesmos – mais plenamente humanos – estamos de fato confrontados com uma dificuldade intrínseca para nos compreendermos.
Voltando a Nietzsche, ele está dizendo que Deus, o fiador da moralidade européia, está sem crédito na praça. Os europeus já não crêem em Deus. Ele está dizendo também, profeticamente, bem ao seu estilo, que da perda da credibilidade de Deus seguirá a derrocada da moralidade européia, pois a mesma sustenta-se em Deus. Reiterando, e explicitando, o problema não é, na constatação de Nietzsche, a perda de crédito de Deus junto a Nietzsche, mas sim a perda de crédito de Deus junto aos europeus.
Estará Nietzsche certo na sua constatação? Perguntemos a outros filósofos, como a fervorosa católica e eminente filósofa analítica G.E.M. Anscombe. Ela diz, em 1958:
[…] os conceitos de obrigação e dever – isto é, obrigação moral e dever moral – e do que é moralmente certo e errado, e do sentido moral de "deve", devem ser lançados ao mar, se isso for psicologicamente possível; pois eles são sobreviventes, ou derivativos de sobreviventes, de uma concepção anterior de ética que geralmente já não sobrevive, e são apenas nocivos sem ela.
Segundo Anscombe, nós herdados dos gregos, através dos cristãos, o conceito de "dever". Entre os gregos o conceito não tinha sentido moral, mas entre os cristãos sim, por causa da concepção legalóide de ética que os cristãos herdam do judaísmo. Em tal concepção normativa da ética, só é possível que um homem seja mau enquanto homem (não enquanto artesão, soldado, etc.) se houver a crença em um Deus legislador. O que ocorre, na ausência de tal crença, é a ausência de falta, erro ou pecado. Como ela diz, sem a crença em Deus:
É como se a noção de "criminalidade" fosse permanecer quando as leis e as cortes criminais houvessem sido abolidas e esquecidas.
Segundo Anscombe, a partir de Hume a noção de obrigação moral é esvaziada da sua base teológica. Em conseqüência disso, diz ela, temos agora em nosso vocabulário uma noção supostamente moral, a noção de "dever", a qual "mantém sua atmosfera mas não seu significado". Ante tal situação, ela diz que "seria mais razoável abandoná-la".
Aceitando que Nietzsche e Anscombe acertam em seus diagnósticos, em 1882 a Europa ainda estava para reconhecer a perda da sua velha moralidade, devido à perda da fé em Deus, e em 1958 um elemento fundamental dessa moralidade, a noção de obrigação moral, já era visto como perdido pelo mesmo motivo.
Perder a noção de obrigação moral, em uma ética normativa, já é perder bastante. Mas MacIntyre diz que a situação é ainda pior. Ele diz, generalizando o ponto de Anscombe aos mais diversos conceitos morais:
[…] no mundo real que habitamos a linguagem da moralidade está no […] estado de grave desordem […]. O que possuímos […] são os fragmentos de um esquema conceitual, partes às quais atualmente faltam os contextos de onde derivavam seus significados. Temos, na verdade, simulacros da moralidade, continuamos a usar muitas das suas expressões principais. Mas perdemos – em grande parte, se não totalmente – nossa compreensão, tanto teórica quanto prática, da moralidade.
[…] os conceitos que empregamos mudaram de caráter nos últimos trezentos anos; as expressões normativas que usamos mudaram de significado. Na transição da diversidade de contextos dos quais se originaram até nossa cultura contemporânea, "virtude", "justiça", "piedade", "obrigação" e até "dever" tornaram-se diferentes do que eram.
Naturalmente não posso negar, e na verdade minha tese exige, que a linguagem e as aparências da moralidade persistam, embora a substância integral da moralidade tenha se fragmentado muito e, assim, tenha sido, em parte, destruída.
MacIntyre, como Nietzsche e Anscombe, nos retrata em uma situação de desmoronamento, morte ou fragmentação dos antigos fundamentos do nosso quadro moral. Segundo esses filósofos, ao menos na medida em que somos filhos do Iluminismo, nós vivemos em um mundo no qual certa fundamentação da moral foi perdida. Cada um desses filósofos reage de maneira diferente a tal perda. Nietzsche a celebra na continuação do §343 da Gaia Ciência, Anscombe nos convida a jogar ao mar a carga inútil, os conceitos morais de base teológica agora vazios, e MacIntyre se concentra em descrever nossa situação em um mundo no qual nossos conceitos morais em geral são vazios.
É preciso notar, apesar das semelhanças, as diferenças entre as posturas desses filósofos. Nietzsche nos retrata em uma situação na qual a ausência de Deus abre espaço para uma nova e melhor fundamentação da moralidade. Tomando emprestada uma noção propagada por Thomas Kuhn, é como se Nietzsche estivesse vendo uma mudança de paradigma tendo curso. Dadas suas críticas ao paradigma anterior, cristão, e sua proposta de um paradigma mais ligado à vida, um paradigma que não seja niilista, é compreensível que ele festeje a "morte de Deus". Anscombe, por sua vez, não está dizendo que nossa moral como um todo está sendo aniquilada, ou que a moralidade é impossível sem a noção de obrigação moral. A ética aristotélica é testemunho dessa possibilidade. Ela diz, muito especificamente, que certos conceitos morais, como nosso conceito de "dever", carecem de significado na ausência de fé em Deus. Ela tem uma proposta positiva para resolver tal problema, a saber, desenvolver uma nova filosofia da mente, uma nova filosofia da psicologia. MacIntyre, por fim, está fazendo algo muito diferente ao dizer que nosso vocabulário moral em geral é vazio. É provável que seu ponto de vista não possa ser levado ao extremo. Como diz Cora Diamond:
A alegação de MacIntyre que de fato perdemos conceitos morais não pode ser levada tão longe ao ponto de sugerir que não podemos vir a compreender e apreciar o que perdemos. Estou sugerindo, então, que seu livro [Depois da Virtude] nos convida a reconhecer um lugar para os velhos conceitos na vida de agora, como um padrão, como algo que podemos usar na compreensão e avaliação da nossa própria situação.
Voltando à proposta de solução do problema da perda dos conceitos morais de Anscombe, como seria uma filosofia da mente operacional em um mundo – no nosso mundo – no qual os conceitos morais fundados em um Deus legislador não estivessem disponíveis? Iris Murdoch responde essa questão em A Soberania do Bem. A resposta de Murdoch tem duas partes. Primeiro, uma crítica da noção de mente e de homem que ela atribui aos filósofos do século 20, os herdeiros do Iluminismo. Segundo, a proposta de uma filosofia da mente alternativa, a qual admite que temos a capacidade de ver o Bem.
De acordo com Murdoch, é típico da filosofia de meados do século 20, tanto na Europa continental (França e Alemanha) quanto no mundo anglo-saxão, ver o homem como um ser dotado de conhecimento, o qual é oriundo de informações captadas através da percepção, e também de vontade. Nessa representação da mente humana não há espaço para o conhecimento, visão ou intuição do que não pode ser dado pelos sentidos. Não há conhecimento do Bem, por exemplo. Além disso, e aqui vou além de Murdoch, não é claro se os filósofos do século 20 aceitam que a vontade tem um objeto formal. Na filosofia medieval, e também na filosofia do século 17, o Descartes da "Quarta Meditação" é um exemplo, a vontade é vista como uma faculdade mental que move-se pela representação do Bem. O Bem é o objeto formal da vontade em tais filosofias do passado, mas esse não parece ser o caso na filosofia do século 20. Ante tal quadro, assim representado, me parece que devemos concordar com Murdoch quando ela diz que para os filósofos de meados do século 20, tanto existencialistas quanto filósofos da linguagem cotidiana, os quais vêem a moral como uma teoria acerca do comportamento, da ação, a vontade é uma faculdade que move-se a partir de nada. Não há objeto formal da vontade, e não há valores que sejam objeto de conhecimento para o sujeito, pois tudo o que é dado a conhecer é aquilo que é dado à percepção, aos sentidos, e valores não estão aí para ser vistos através da percepção. Talvez os valores estejam apenas "nos olhos de quem vê", sendo, de certa maneira, subjetivos.
Ante tal quadro, o qual ela considera insustentável, Murdoch propõe uma filosofia da mente alternativa. Murdoch propõe que o Bem é objeto de visão intelectual, e de conhecimento. É preciso deixar claro que o Bem, para Murdoch, não é uma espécie de disfarce de Deus. Bem é um conceito, e Deus não costuma ser tratado como um (mero) conceito pelos filósofos que investigam seu ser.
Obviamente, os filósofos de meados do século 20 – chamemos aos membros dos dois grupos, tanto analíticos como continentais, igualmente de "existencialistas", tal como faz Murdoch – protestariam ante tal teoria. Tais filósofos diriam que temos olhos, ouvidos, nariz, pele, língua, isto é, órgãos dos sentido, mas não temos um órgão para captar o Bem. Em vista disso eles diriam que a proposta de Murdoch é mero misticismo. É como se, na carência de Deus, um arremedo de Deus igualmente além do conhecimento, a idéia do Bem, estivesse sendo sugerido.
Em resposta aos existencialistas, Murdoch admite que adota uma espécie de misticismo, isto é, de teoria que admite algum tipo de visão de algum tipo de realidade que não é captada pelos cinco sentidos, e da qual a experiência estética da beleza é testemunha. Ela diz:
De fato a dificuldade é olhar. Se alguém não acredita em um Deus pessoal não há "problema" do mal, mas há a quase insuperável dificuldade de concentrar a atenção no sofrimento e no pecado, nos outros ou em si mesmo, sem falsificar o quadro de alguma maneira enquanto se o torna suportável. […] Há […] algo na tentativa séria de olhar compassivamente para as coisas humanas que automaticamente sugere que "há mais do que isto". O "há mais do que isto", se não é corrompido por algum tipo de finalidade quase-teológica, deve permanecer uma minúscula centelha de insight, alguma coisa com, tal como é, uma posição metafísica mas sem forma metafísica. Mas me parece que a centelha é real, e que a grande arte é evidência da sua realidade.
Embora tal postura seja oposta à quase totalidade das práticas filosóficas contemporâneas, será tal teoria privada de respeitabilidade teórica por ser mística? Aos que pensam assim não é demais lembrar que Platão, nosso pai, estava inclinado a tratar as coisas dessa maneira. Sobre o misticismo, Murdoch rejeita a oposição, estabelecida por Bertrand Russell, entre misticismo e lógica. Para ela, o homem bom tem noção do magnetismo do Bem, e nesse sentido é místico, e mesmo religioso.
Para Murdoch, o problema moral mais básico é o egoísmo. Ela entende por místico o homem que usa a visão (intelectual) para ver as coisas tal como as mesmas são, e que em decorrência disso se afasta do egoísmo. O existencialista, aquele que exalta o indivíduo de maneira anti-social, romântica e solipsista, é o personagem filosófico oposto ao místico. Para Murdoch, o existencialista volta-se apenas para si mesmo, e não vê mistério algum no mundo, o que falsifica o quadro da situação do homem no universo.
As religiões dispõem de técnicas e exercícios espirituais para purgar o egoísmo, purificar a alma. Entre tais técnicas estão os rituais e as orações. Mas, em um mundo sem religião, tal como o mundo de meados do século 20, como evitar o egoísmo? Para Murdoch, é preciso que o indivíduo sem Deus tenha uma atitude cognitiva para com o Bem semelhante à atitude cognitiva do fiel para com Deus durante a oração. Orar, diz Murdoch, é focar amorosamente a atenção em Deus. Deus, segundo Murdoch, era ou é:
[…] um objeto real de atenção único, perfeito, transcendente, não-representável e necessário.
Para purgar o egoísmo e tornar-se uma pessoa melhor, o que é o objetivo da moral, o homem-sem-Deus precisa de um objeto de atenção que tenha todas as características de Deus. Murdoch propõe que o Bem pode ser tal objeto de atenção. O Bem (1) pode ser foco da atenção do sujeito, (2) é um conceito unitário, supremo, (3) é transcendente no sentido de ser exterior ao indivíduo, exigir que a atenção volte-se para fora, para o mundo, (4) é uma perfeição, (5) está acima da dúvida para aquele que o tem em atenção, e (6) é real no sentido se não esgotar-se na sua percepção.
Seria preciso apresentar a posição de Murdoch com mais calma, mas nesta comunicação não posso fazer mais do que dar uma notícia da mesma. Fecho a apresentação da mesma com a resposta de Murdoch a uma possível crítica: Trata-se de uma teoria da moral, e logo da prática, ao alcance apenas de uma elite de místicos, ou de uma teoria ao alcance de todos? Para Murdoch, trata-se de uma teoria ao alcance de todos. Ela diz:
O fundamento para a moral é propriamente certo tipo de misticismo, se por isso se entende uma fé não-dogmática e essencialmente não-formulada na realidade do Bem, ocasionalmente conectada com a experiência. O camponês virtuoso sabe, e creio que continuará sabendo, apesar da remoção ou modificação do aparato teológico, embora ele possa ter dificuldade para dizer o que sabe.
*
Por fim, me parece apropriado nos perguntarmos se o cenário vislumbrado pelos filósofos antes mencionados, se o cenário de desaparição ou diminuição da influência da religião se mantém nos dias de hoje. Tomando como apoio a exposição de Jacques Derrida no livro A Religião, creio que o quadro consistentemente visto pelos filósofos ao longo do século 20, isto é, o quadro de perda da religião, e de Deus, talvez tenha se alterado. Caso tenha havido tal alteração, isto é, caso a religião esteja, ainda que de uma nova maneira, voltando a ocupar um espaço importante na vida das pessoas, no mundo europeu por filiação ou adoção, teremos que repensar os problemas apresentados acima. Acima me concentrei na questão da perda dos conceitos morais a partir da perda da fé em Deus na história recente da Europa. Nesse quadro, a volta da religião significa, automaticamente, a volta do fundamento teológico para certo discurso moral? Eis um problema.
Referências bibliográficas
Anscombe, G.E.M. "Modern Moral Philosophy." In Ethics: History, Theory, and Contemporary Issues, editado por Steven M. Cahn e Peter Markie. New York e Oxford: Oxford University Press, 2006 [1958].
Brandom, Robert B. Making It Explicit. Cambridge, EUA e London: Harvard University Press, 1998 [1994].
Conradi, Peter. "Editor's Preface." In Existentialists and Mystics: Writings on Philosophy and Literature, editado por Peter Conradi, pp. xix-xxx. New York e London: Penguin Books, 1999 [1997].
Derrida, Jacques. "Fé e Saber: As Duas Fontes Da 'Religião' nos Limites da Simples Razão." In A Religião, editado por Jacques Derrida e Gianni Vattimo. São Paulo: Estação Liberdade, 2004 [1996].
Diamond, Cora. "Losing Your Concepts." Ethics 98 (1988): 255-77.
Havas, Randall E. "Who Is Heidegger's Nietzsche? (On the Very Idea of the Present Age)." In Heidegger: A Critical Reader, editado por Hubert Dreyfus e Harrison Hall, pp. 231-46. Cambridge, USA e Oxford: Blackwell, 1992.
Hood, Robert E. "Must God Remain Greek?" In African Philosophy: An Anthology, editado por Emmanuel Chukwudi Eze, pp. 462-67. Bodmin, Inglaterra: Blackwell, 2004 [1990].
Murdoch, Iris. "The Existentialist Hero." In Existentialists and Mystics: Writings on Philosophy and Literature, editado por Peter Conradi, pp. 108-15. New York e London: Penguin Books, 1999 [1950].
-----. "Existentialist Bite." In Existentialists and Mystics: Writings on Philosophy and Literature, editado por Peter Conradi, pp. 151-54. New York e London: Penguin Books, 1999 [1957].
-----. The Sovereignity of Good. London e New York: Routledge, 2004 [1970].
-----. Metaphysics as a Guide to Morals. New York e London: Penguin Books, 1993 [1992].
Nietzsche, Friedrich. A Gaia Ciência. Traduzido por Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2005 [1882].
Steiner, George. "Foreword." In Existentialists and Mystics: Writings on Philosophy and Literature, editado por Peter Conradi, pp. ix-xviii. New York e London: Penguin Books, 1999 [1997].